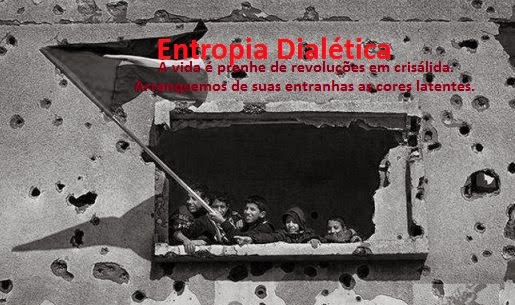“Azul é a cor mais quente” nos
comove com um apelo fácil, nos tocando em dramas individuais que todos vivemos.
Quem nunca sofreu por amor? Quem nunca errou e perdeu um grande amor? Quem
nunca se arrependeu de algo que fez, tomou um fora? Suas cenas longas, com
tomadas bonitas que focam pequenos detalhes da vida, dos corpos, dos gestos,
criam uma identidade com a protagonista, com o difícil trajeto de descoberta da
sua sexualidade, o enfrentamento que ela assume aos poucos contra o
preconceito, tanto o que está do lado de fora em seus colegas, amigos, família,
como o que a sociedade entranhou desde pequena em sua própria cabeça. Uma jovem
colegial que procura se “forçar” a uma heterossexualidade antes que consiga
assumir para si mesmo que não é ali que irá se realizar sentimentalmente, e o
trajeto de assumir sua homossexualidade através de uma grande paixão, uma mulher
mais jovem e madura que irá lhe ensinar a ser ela mesma, a não ter vergonha de
si e de sua forma de amar.
É
um filme bonito, sensível, mas sua beleza acaba aí. E, no entanto, há muito mais
por trás desta beleza; por trás de uma comovente história de um amor frustrado,
o filme carrega o pesado ranço do patriarcado transmitindo seu modelo para uma
relação amorosa, mesmo quando nela não há um homem. A heteronormatividade em
nossa sociedade é um fruto direto da forma como o sistema capitalista de
exploração se baseia – entre tantas outras formas de explorar – numa opressão
muito mais antiga do que ele próprio, que é o machismo e o patriarcado, para
fazer recair em uma metade da humanidade o fardo mais pesado da exploração.
Nossa sociedade toma como célula econômica fundamental da vida a família, na
qual cabe ao homem provedor o papel de garantir o sustento da mulher e dos
filhos. À mulher, a quem cabe o papel de fazer todo o trabalho doméstico não
remunerado pelos capitalistas, mas fundamental para a reprodução do capital,
coube também progressivamente entrar no mercado de trabalho, com salários
inferiores e, assim, mantendo seu papel economicamente subordinado e sofrendo a
exploração da dupla jornada de trabalho – trabalho assalariado e trabalho
doméstico não remunerado. Este modelo familiar, cuja estrutura é fundamental
para sustentar economicamente este sistema, é o principal motivo pelo qual a
heterossexualidade é uma norma tão fundamental do capitalismo, e pelo qual
todas as outras formas de sexualidade podem constituir uma “ameaça” e devem ser
combatidas pelas principais instituições ideológicas sociais.
O
filme, num primeiro olhar, parece combater a visão heteronormativa do mundo: ao
mostrar o preconceito que é aos poucos superado por Adéle, ao criar a empatia
com a personagem e seus sentimentos, ele pode também combater o preconceito
existente no próprio público, criando neste a ideia de que a homossexualidade é
tão “natural” como a heterossexualidade, e, portanto, não deve ser discriminada
de forma alguma, mas aceita, respeitada, “normalizada” socialmente. E é verdade
que este filme pode mesmo cumprir este papel. Mas, se passarmos desta “primeira
camada”, veremos que há aspectos do filme que são o contrário disto, reforçando
o modelo heteronormativo como regra até mesmo para os casais
não-heterossexuais. O público se identifica com o “romance escondido” do casal
na primeira parte de sua relação: Adéle é acuada por suas colegas e renega
publicamente sua sexualidade para poder ser aceita como “normal” na escola;
depois, no jantar em família na sua casa, vemos o peso do modelo familiar no
diálogo que se estabelece entre os pais de Adéle e Emma. Ao comentar a
dificuldade em ter a arte e o ofício de artista como uma fonte de renda em
nossa sociedade, a solução que apresentam os pais de Adéle é que Emma tenha um
marido com um bom emprego, que possa sustenta-la enquanto ela faz sua arte. Aí,
mais uma vez, aparece a família como o núcleo econômico, com o homem no papel de
provedor e de sustento econômico para a mulher. Rimos disto, nos sentindo
subversivos junto ao casal que esconde seu amor, um amor que não se encaixa nos
padrões prontos dos pais de Adéle. A nossa cumplicidade com as duas aumenta,
quando elas abafam seus gemidos para poder transar no quarto.
Contudo,
a ironia maior está no fato de que Emma viria a cumprir precisamente o papel social
de “homem”, e justamente no “casamento” que se estabelece entre ela e Adéle.
Desde o primeiro contato o papel de “mulher”, ou seja, de parte mais “frágil” e
subordinada do casal, vai se desenhando para Adéle. Segundo as próprias palavras
de Emma ao abordá-la no bar, ela era um tipo que não se via muito por ali:
menor de idade, uma “heterossexual curiosa”. O que em Adéle a identifica como
uma “heterossexual curiosa” naquele meio? Seu jeito “feminino”, delicado, meigo,
tímido, introvertido. Ela é, desde que coloca os pés no lugar, assediada por
mulheres que cumprem o papel de “homens”: agressivamente abordando ela com
cantadas, encarando-a de cima a baixo, oferecendo-lhe para pagar bebidas. Ela,
tímida e recatada, é “salva” de todas estas abordagens por Emma, que chega
apresentando-a como sua “prima”, como um código para dizer: esta já tem “dona”.
Vai pegá-la na escola, inicia sua vida sexual e, por fim leva-a para viver em
sua casa.
O
papel que cabe na relação para Adéle é o papel da mulher numa relação
heterossexual de nossa sociedade: ela cuida da casa, cozinha, recebe os amigos
de Emma. Para Emma, cabe explorar o mundo, emancipar-se através de sua criação –
seu trabalho – e poder descobrir sua identidade. Para Adéle, cabe a profissão
socialmente designada para mulheres de professora, em que seu suposto “instinto
maternal” pode se desenvolver no cuidado com as crianças. Mas, para além disso,
não lhe cabe explorar o mundo: a sua realização é a realização no amor, ou
seja, no âmbito familiar. Isto fica explícito no diálogo que elas têm na cama,
quando Emma insiste para que Adéle mostre as coisas que escreve, que as
publique para que ela se realize na sua arte. Adéle afirma: sua felicidade é
aquela; a sua escrita é sobre coisas íntimas, pessoais, e não para o mundo. A
sua felicidade é poder estar ali com Emma. Neste mesmo dia, Adéle havia
recusado o convite para sair com seus colegas de trabalho. O motivo: ir para
casa cozinhar, arrumar tudo para receber todos os amigos e colegas de trabalho
de Emma e celebrar sua estreia como artista. Está fundada a divisão social do
trabalho e, consequentemente, de toda a vida social dentro daquele casal: Emma
vive para o mundo; Adéle, para a família. Em seu discurso diante dos convidados,
Emma mostra qual o papel de Adéle: musa inspiradora para sua arte – ou seja,
seu papel não é de indivíduo, de sujeito diante do mundo, mas de suporte, mero apoio
para que Emma possa, ela sim, descobrir sua individualidade, desenvolver-se
como sujeito criador e colocar-se no mundo desta forma. E, de quebra, ainda diz
de Adéle: “e foi ela que preparou todos os pratos!”. Adéle, em seu humilde
discurso, apenas diz: “espero que gostem de tudo.” Pois é este o papel que lhe
é reservado: agradar e servir bem, ser uma boa acompanhante para sua
companheira. O diálogo na cama desenvolve isto, quando Adéle diz que todos os
amigos de Emma eram “tão cultos” que ela se sentiu “deslocada”. E Emma lhe
responde: “você esteve ótima”, “eles te adoraram”. Ela é um bibêlo, um
penduricalho de Emma.
Junto
à heteronormatividade, cuja principal função é garantir a divisão social do
trabalho entre homem e mulher, o outro principal pilar ideológico e moral da
família é a monogamia. E ela cumpre um papel decisivo no filme, pois será o
pivô da separação do casal. Emma tem toda uma vida para viver; Adéle não. Por
isto, nada mais natural que se sinta carente, sozinha, abandonada enquanto Emma
vive sua vida. Lembremo-nos que, quando Adéle finalmente aceita o convite de
seus colegas para sair, é justamente quando Emma está trabalhando até tarde com
sua colega (em relação à qual, aliás, Adéle já sentia ciúmes). Está triste e
insegura, pois o que dá sustentação à sua vida e é seu principal motivador
(Emma), não tem ela neste mesmo lugar: no papel de homem da relação que é
desempenhado por Emma, o papel central é ocupado pelo trabalho, pela atividade
de realização no mundo. Isto coloca Adéle num papel claramente subordinado na
relação, o que a torna insegura, fragilizada.
A
carência joga Adéle nos braços de outro homem, do primeiro homem que lhe dê
atenção, lhe valorize. É por conta disto que Adéle ouve de seu “marido” os
xingamentos tipicamente machistas que as mulheres ouvem de seus companheiros “traídos”:
puta, vagabunda, vadia. Adéle era, em primeiro lugar, “propriedade” de Emma, e
ela não pode ser perdoada porque feriu o mais sagrado dos princípios desta
sociedade: o da propriedade. É expulsa com uma mala de roupas de sua própria
casa, pois esta é propriedade do “homem provedor”, e tudo o que ela construiu
ali é acessório, detalhe. Quantas mulheres não são expulsas de casa por seus
maridos com uma mão na frente e outra atrás, porque cabe ao homem o papel de
proprietário? Todo o trabalho que tiveram para construir aquela casa, por ser
socialmente desvalorizado, perde todo seu valor e é na separação que isto se
expressa mais, quando as mulheres deixam de ter tudo aquilo que seu trabalho
doméstico não remunerado ajudou a acumular.
Contudo,
a vida de Adéle era a família, a relação, e por isto sua vida para no tempo, na
obsessão em ter Emma como companheira. A vida desta, que nunca teve como centro
a relação amorosa, segue adiante com uma nova companheira, se desenvolvendo
naquilo que de fato a realiza: o trabalho como artista. A profissão de Adéle não
é socialmente valorizada: é uma profissão “de mulher”, de “mãe”, de “cuidar de
crianças”. Ainda que tenha, na verdade, uma importância social imensa, de
educar pessoas, transmitir valores e conhecimentos socialmente imprescindíveis,
a profissão de educadora infantil nunca será socialmente valorizada porque é
uma “profissão de mulher”. Isto se expressa ao longo do filme em diversos
diálogos, como na casa dos pais de Emma, entre o casal na cama etc.
Pode-se
argumentar que não há motivo para condenar o filme por apresentar uma relação
homossexual que é guiada pelos parâmetros heteronormativos, pois afinal a
sociedade é assim, grande parte dos casais gays de fato reproduz estes valores,
e não é a “função” da arte dar nenhuma resposta a um problema social que
exista. Independentemente da discussão sobre a suposta “função” da arte, cujo
argumento de que não deve responder a problemas sociais eu acho bastante
duvidoso, para dizer o mínimo, o problema central do filme está em que a
heteronormatividade do casal em nenhum momento é problematizada. A tristeza de
Adéle aparece ao público como um drama afetivo individual, e não há nenhum
movimento que coloque esta questão em seu devido papel de problema socialmente
construído. Se o filme vem sendo injustificadamente louvado aos quatro cantos
pelo seu mérito de questionar tabus e desafiar preconceitos, parece justo
exigir dele que questione os problemas sociais mais profundos que fazem com que
a heteronormatividade e a monogamia centradas na família continuem sufocando a
sexualidade da maior parte da humanidade.