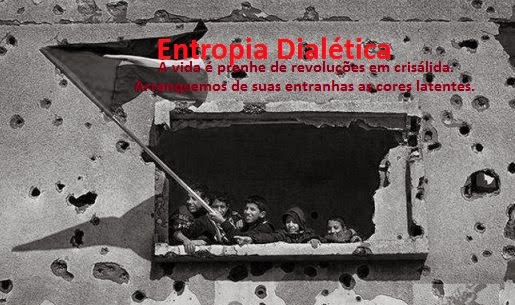Recentemente Camila Lisboa, destacada dirigente da juventude do PSTU, escreveu um artigo homenageando a cantora Amy Winehouse, motivada por sua súbita morte. Este artigo expressa cabalmente como aquilo que nós da Fração Trotskista – Quarta Internacional (organização internacional da qual a LER-QI é a seção brasileira) denominamos como o “grau zero da estratégia trotskista” encontra seu correlato também nas discussões sobre moral, ideologia e arte; ou seja, que as organizações que se reivindicam herdeiras do trotskismo passaram a abrir mão, no perído do pós II guerra, não apenas das bases teóricas, estratégicas e programáticas da IV Internacional, mas também deixaram de lado o que o marxismo refletiu e elaborou sobre a arte, a cultura e a moral 1. Trata-se de um artigo que expressa posicionamentos extremamente conservadores sobre estas questões, que poderia perfeitamente ter sido escrito por um colunista cultural de uma revista burguesa qualquer, - ou, pelo seu tom “descolado” que reivindica a “rebeldia” de Amy, na Folhateen 2 – que joga por terra toda a vasta e profícua elaboração da crítica artística e cultural elaborada ao longo de séculos de luta da classe trabalhadora, tomando para si o que há de mais atrasado no senso comum e crendo com isso que está “inventando a roda”.
Vivemos tempos em que começam a cair por terra os principais mitos ideológicos forjados durante o período de trinta anos de restauração burguesa, de que as revoluções seriam coisa do passado, de que tudo o que podíamos fazer era nos acostumarmos ao mundo tal como ele é pois a história teria chegado ao seu fim, e até mesmo absurdos em flagrante oposição à realidade empírica, como de que não existiria mais classe operária. Neste contexto de transformação, certamente assistiremos a grandes reviravoltas também no terreno das artes, da cultura e da moral. Embrionariamente, estes fenômenos começam a se expressar aqui no Brasil, como, por exemplo, nas Marchas da Maconha e Marchas da Liberdade, na organização dos artistas que ocuparam a Funarte e na sua própria produção, que começa a se questionar cada vez mais abertamente sobre seu papel na luta de classes e de que lado deve se posicionar (o próprio movimento se reivindica de “trabalhadores da cultura” 3, mostrando nitidamente uma mudança de subjetividade ao marcar seu desejo de identidade com a classe trabalhadora), bem como nos movimentos artísticos que se organizam na periferia das grandes metrópoles e começar a dar voz à expressão da classe trabalhadora, o que, com todas as contradições que apresente (como as tentativas muitas vezes bem sucedidas de assimilação e cooptação por parte da indústria cultural e do estado burguês 4, além de uma evidente dificuldade em superar os modelos estéticos hegemônicos impostos pela burguesia), é por si só um fato notável, considerando que todos os meios de expressão artística foram historicamente (durante o capitalismo) de posse exclusiva da burguesia e da pequena burguesia mais abastada.
Neste sentido, são importantíssimas as questões neste âmbito suscitadas no artigo de Camila Lisboa, pois os revolucionários devem se colocar a tarefa de discutir não apenas programa e estratégia para a construção do partido revolucionário que possa ser o elemento decisivo para a tomada do poder quando os trabalhadores se coloquem à frente para travar os grandes combates da luta de classes, mas, entendendo também que o papel de um partido revolucionário é ser um embrião da nova sociedade que almejamos forjar, devem abrir espaço para que em seu interior ocorra o questionamento da sexualidade, da moral burguesa, da cultura e da arte, enfim, de todos os aspectos de nossa vida, hoje balizados pelos ditames da apodrecida classe dominante. O partido e sua militância devem fertilizar amplamente o terreno que será cultivado pela classe trabalhadora para forjar uma nova vida quando passemos a romper definitivamente os grilhões que nos aprisionam.
Historicamente foi assim: como exemplos emblemáticos de que nos períodos de revolução se abre o caminho para a renovação da arte podemos citar o russo Vladímir Maiakóvksi e o alemão Bertolt Brecht, ambos comprometidos da cabeça aos pés em fazer uma arte umbilicalmente atrelada ao projeto de revolução social sob a hegemonia da classe trabalhadora.
O artigo de Camila Lisboa, do começo ao fim, está na contramão de lutar por uma nova forma de encarar a arte, a cultura, a sexualidade, as drogas; enfim, a vida. Retoma a prática de seu partido, o PSTU, de separar suas discussões propagandistas sobre o socialismo de sua prática cotidiana, frequentemente adaptada à miséria do possível e aos estreitos horizontes da democracia burguesa. No âmbito da cultura e da moral, demonstram através de uma importante dirigente da juventude (setor que deveria ser a vanguarda destas discussões), como se encontra até o âmago adaptado à miséria da sociedade burguesa. Se a questiona, é apenas na aparência, para assim aceitá-la de maneira supostamente mais “rebelde”, para usar as palavras da autora.
Vejamos então como isso se dá.
Camila inicia discutindo o “lixo cultural” produzido pelo capitalismo sob o rótulo de arte da seguinte forma: “algo produzido às pressas, sem personalidade, sob o ritmo louco do mercado, sem critério de criação, sem expressão real de nenhum sentimento, pensamento ou qualquer coisa. Sob essa lógica, buscam-se padrões estéticos, sem muitas exigências artísticas. 25 a 30 shows por mês, ‘Domingão do Faustão’ e pronto. Fez-se um ‘artista’, ou um ‘fenômeno’”.
Concordarmos prontamente – como qualquer pequeno burguês “rebelde” poderia fazer – que a indústria cultural impõe uma produção estética que segue determinadas fórmulas comerciais estipuladas por um nicho mercadológico e todos os ramos de reprodução de capital criados como suas patas: gravadoras; programas, sites e revistas de “entretenimento”, todos os produtos ligados ao “marketing cultural”, como chaveiros, bonés, camisetas, posteres, calcinhas, e todo e qualquer tipo de porcaria que possa ser vendida em grande quantidade. Alguns dos elementos apontados por Lisboa respondem a esta lógica do produtivismo em moldes pré-estabelecidos e comercialmente testados: a produção às pressas, a grande quantidade de shows, etc, tudo sob a lógica de gerar mais lucro. Contudo, é gritante o vazio dos conceitos utilizados no artigo para caracterizar e criticar a indústria cultural, que podem querer dizer praticamente qualquer coisa. O que significa “algo sem personalidade”, “sem critério de criação”, “sem expressão real de nenhum sentimento, pensamento ou qualquer coisa”(?!?), “padrões estéticos, sem muitas exigências artísticas”? Deste tipo de caracterização da industria cultural pode-se deduzir que, para a crítica do PSTU, qualquer coisa com “personalidade”, “critério de criação” e que “expresse qualquer coisa” é arte.
De fato, a produção da indústria cultural responde a todos os critérios colocados acima. A “personalidade” que se apresenta é aquela criada e imposta pelos nichos de mercado, ou assimilada e pasteurizada a partir de movimentos culturais espontâneos da juventude, pronta a encaixar adolescentes em estereótipos que garantam a formação de um grupo identitário para consumir os produtos a ele dirigidos: emos, góticos, clubbers, patricinhas, punks, nerds, agroboys, gays, pit boys, torcedores de futebol e até onde mais a lógica do lucro possa imaginar. Seu “critério de criação” responde a estes parâmetros, que na verdade são bastante rígidos e conscientes. Gastam-se fortunas com os melhores equipamentos, músicos e produtores muitíssimo bem treinados; imagens, letras e melodias cuidadosamente elaboradas para terem a “personalidade” adequada. O melhor exemplo são as megalomaníacas produções de Hollywood. Será que filmes que gastam milhões de dólares e arrecadam muitas vezes mais em bilheteria são realmente produzidos sem nenhum “critério de criação”? Pode ser que os produtos da indústria cultural não expressem os sentimentos e pensamentos “rebeldes” que Lisboa gostaria, mas certamente há a expressão de muitos sentimentos e pensamentos, que dirá a expressão de “qualquer coisa”! Mas, certamente, a maior expressão de “qualquer coisa” é esta definição da indústria cultural!
Se queremos ter uma crítica minimamente séria, seguindo o método marxista, ou seja, materialista e dialético, não podemos dispensar uma das principais camisas de força ideológicas da burguesia, que cumpre o papel primordial de alienar e pacificar milhões e bilhões de pessoas em todo o mundo, com meia dúzia de frases feitas que não querem dizer absolutamente nada. Precisamos entender profundamente o que torna a indústria cultural tão poderosa para que possamos desmascará-la diante das massas e combatê-la, para que possamos nos apropriar de muitos de seus elementos mais avançados e eficazes para um uso revolucionário. Os melhores marxistas no campo da crítica cultural sempre procederam desta forma, como podemos ver na obra de Walter Benjamin. Este via, para ficarmos apenas em um exemplo, de maneira dialética a possibilidade da reprodução em grande escala de obras de arte (um elemento imprescindível para a formação da indústria cultural moderna), como uma possibilidade de acabar com o “fetiche” criado em torno da obra de arte (aquilo que ele denominou como “aura”)5.
Também a burguesia, que neste aspecto é muito mais perspicaz do que o PSTU, procede de forma semelhante ao assimilar aquilo que pode da produção artística e cultural dos revolucionários para seus próprios fins de dominação de classe. Diversas técnicas muito eficazes que hoje conhecemos através da publicidade capitalista, como o uso apurado da linguagem visual, foram assimiladas a partir das experiências desenvolvidas pela ROSTA 6 sob o comando de Maiakóvski na época da guerra civil revolucionária, ou ainda dos construtivistas russos que continuaram estas experiências. Muitas inovações do cinema hoje completamente absorvidas por Hollywood tiveram sua origem nos filmes de Serguei Eisenstein que retratavam a luta da classe trabalhadora russa pela tomada do poder. São apenas alguns entre diversos exemplos que poderíamos citar.
O mesmo se deu com todos os movimentos mais importantes de contracultura ao longo do século XX. A cultura e a arte, por mais contestadores que sejam, mostram-se completamente incapazes de fazer uma transformação radical da sociedade por si próprias (como gostariam e querem fazer crer muitos artistas oprimidos pela camisa de força estreita da industria cultural), e isto torna-se evidente na forma como o capital é capaz de se apropriar, assimilar e esterelizar ideologicamente qualquer movimento de contracultura que se geste em seu interior, tornando-o apenas mais um nicho comercial a ser explorado – em especial para vender bugigangas para os adolescentes “rebeldes”. Foi assim com toda a música criada pelos negros nos EUA – rock, blues, jazz, R&B, soul e Rap –, que foi peça fundamental na resistência cultural do povo negro, e hoje foi transformada em paródias como o Rap “gangsta”, que trás o estereótipo do negro assimilado, com sua ostentação de carrões, penduricalhos de ouro e mansões, além de um machismo gritante que coloca mulheres-objeto desfilando nos clipes no mesmo patamar que seus carrões. Foi assim com o Punk surgido das entranhas da classe operária inglesa e estadounidense, que em suas vertentes mais politizadas produziu verdadeiros hinos de guerra ao capital, como “London Calling”, e hoje foi transformado em nada mais do que “um visual e um som”. Foi assim com o movimento hippie, que se colocava pela liberdade sexual e de uso das drogas, organizando atos massivos contra a guerra do Vietnã e produzindo aquilo que houve de mais revolucionário esteticamente no rock, com figuras do porte de Jimi Hendrix e Janis Joplin, e que depois virou uma caricatura apresentada em musicais da broadway, forneceu uma geração de frustrados workaholics para o yuppismo e chegou à diluição completa com a formação de conceitos de moda como o “hippie-chique”. Esta pasteurização ideológica se deu até mesmo com figuras transformadas em “mártires revolucionários” para que seu potencial questionador fosse obliterado, como nos milhares de produtos que trazem estampada a cara de Che Guevara como se este fosse um ídolo pop adolescente tão “rebelde” quanto o último cantor Emo.
Estes movimentos de assimilação dão apenas uma ideia vaga da intrincada relação da produção artística com a indústria cultural, e faz-se necessário que a entendamos de forma dialética, e não maniqueísta, como se tudo o que produz fosse completamente descartável, ou como se aquilo em que vemos algum valor fosse uma exceção inexplicável. Da maneira como é retratada no texto, Amy parece muito mais com uma grande vítima da indústria cultural, quando na verdade trata-se de uma vítima sim, mas em igual medida uma cúmplice que construiu grande fortuna adaptando-se aos moldes exigidos por sua gravadora (exemplo marcante é seu terceiro CD, que havia sido vetado pela gravadora por ser “muito reggae”, e que agora foi desengavetado pela possibilidade de capitalizar melhor a morte da cantora). Não há quem não tenha apreço por algumas (ou muitas) das produções da indústria cultural, que hoje regula praticamente toda a produção artística à qual temos acesso, e o que explica isso não é meramente uma genialidade tão incrível que o capital não foi capaz de obliterar com a implacável lógica do lucro. Por isso, é uma postura absurda a de descartar toda a produção cultural sob o julgo do capital unanimemente, elegendo “heróis” como Amy como se eles não estivessem completamente implicados na reprodução desta lógica. Uma visão minimamente dialética compreende que a relação contraditória entre artistas e dentores dos meios de produção e circulação cultural deve ser estudada a fundo para que possamos ver o que há de progressivo e o que teremos que superar definitivamente no modo como se produz a arte na sociedade burguesa.
Mas, ao seguirmos a leitura do texto de Camila Lisboa, vai ficando cada vez mais evidente porque esta julga tão simples colocar tudo como “preto no branco”, de uma forma tão antimarxista. Diz ela: “Fazer boa música, produzir arte, compor, escrever, tocar e cantar sob o critério da arte é uma arte e tanto. E foi com isso que Amy Winehouse surpreendeu.” Aqui torna-se evidente como sua cabeça está repleta de “verdades” nada “rebeldes”. O que seria fazer “boa música”? Por este artigo podemos saber que, para Lisboa, Amy seria “boa música”. E o que mais? Para ela, não importa sequer colocar sua visão do que seria isto. O conceito de “boa música”, para a autora, não é historicamente determinado, mas fixo e imutável. É uma verdade tão dogmática quanto os dez mandamentos, e por isso não é necessário explicá-la. Coroa-se isto com a formulação “sob o critério da arte”. Para Lisboa, como para Olavo Bilac, o príncipe dos poetas parnasiano, a arte existe em seu estado puro, talvez no monte Olimpo ou na cabeça de grandes gênios como Amy Winehouse, e ela oferece seus critérios (misteriosos demais para nós mortais, mas certamente de conhecimento da autora, que, no entanto, se recusa a compartilhá-los conosco) para que estes gênios produzam sob seu auspício. Haveria algo mais radicalmente anti-histórico, antimaterialista, antidialético, ou, em outras palavras, antimarxista do que tal visão da arte? Voltaremos a isto mais a frente.
Amy Winehouse pode ter surpreendido Lisboa por ter produzido sob o “critério da arte”, mas certamente o leitor de seu texto se surpreende mais pelo descalabro a seguir, quando a autora afirma que “Amy Winehouse foi rebelde porque fazia arte verdadeira, com entrega. O amor não lhe era um sentimento bonito, como nos contos de fada, mas um sentimento de dor, de massacre, de automutilação. É muito rebelde falar do amor assim. (?!?) Para Amy, o amor é dor porque se humilha e “chora no chão da cozinha”, sem se importar em expressar mais amor do que o correspondido.” Seria este então o misterioso “critério da arte” de Lisboa? Aquilo que ela chama de “arte verdadeira” é a que se faz com “rebeldia” e “entrega”? Supõe-se então que a “arte verdadeira” só pode ser fruto de um arrebatamento, um estado catártico, um transe que acomete os “gênios criadores” que colocam seus sentimentos profundos nas obras. Mais a frente, retomaremos isto para mostrar como a ideologia burguesa de arte está impregnada até a medula de Lisboa.
Por ora, vamos a sua colocação sobre às relações de sexualidade, quando explica generosamente ao seu leitor que “é muito rebelde” falar do amor como humilhação, massacre, automutilação. Se a visão do amor de contos de fadas do “foram felizes para sempre” expressa uma deturpação ideológica que procura vender a família e o casamento como instituições sagradas e dignas de louvor, colocando em um pedestal de adoração aquilo que é uma forma de escravidão e opressão, a visão de amor como humilhação, por sua vez, não tem absolutamente nada de progressivo, e é na verdade uma complementaridade necessária àquela primeira visão, imprescindível para manter as mulheres submissas, como reféns de sua opressão, aceitando-a não apenas por uma imposição externa, mas por terem internalizado a ideologia brutal que a justifica como parte de seu próprio modo de sentir e pensar.
É verdadeiramente escandaloso que uma mulher, militante de um partido operário que discute a opressão das mulheres sob o capitalismo e a necessidade de sua auto-organização, reivindique que é “rebelde” falar do amor como massacre, dor e automutilação. Milhões, se não bilhões, de mulheres são vítimas desta visão tão “rebelde” de amor. Casos de femícidio, tratados pela mídia e pela justiça burguesa como “crimes passionais” são frequentemente justificados por tal visão “rebelde” de amor 7. Não se coloca a realidade concreta: que o homem vê sua companheira como uma posse e que, ao perder sua propriedade, resolve assassiná-la, por sentir-se detentor de todo a sua subjetividade e de seu corpo. Trata-se a questão sob o prisma deste “amor” tão “rebelde”, como um grande sentimento de “dor” causado pelo abandono, às vezes elevando-se um assassinato seguido de suicídio ao status de uma verdadeira “declaração de amor”, algo belo, como “Romeu e Julieta”: “Se não posso viver com você, não mais viverei!” (E nem você, com mais ninguém, e nem sozinha). É uma expressão acabada da ideologia burguesa sobre as relações amorosas.
Por outro lado, as mulheres sofrem uma pressão social colossal para colocarem seus relacionamentos amorosos no centro de suas vidas, como a maior prioridade e como determinante de sua própria personalidade, subjetividade e aspirações de vida. Em muitos casais formalmente “emancipados” à primeira vista, com relacionamentos abertos (sem monogamia) e sem os aspectos centrais dos moldes tradicionais de família (compartilhar uma casa, com a mulher cumprindo o papel de reprodutora da força de trabalho e educadora das crianças e o homem como provedor), podemos encontrar ainda esta subjetividade nas mulheres como uma das marcas mais persistentes e difíceis de superar da opressão que se abate sobre elas no âmbito dos relacionamentos – principalmente porque as coloca diretamente como agentes de sua própria opressão ao reproduzirem estes sentimentos, o que coloca o combate à opressão como um combate à sua própria subjetividade. Enxergar o amor como sofrimento é parte intrínseca disto. É parte de que a mulher coloque sua relação amorosa não como parte de sua liberdade, como reivindicam os revolucionários, mas como parte de sua escravidão. Faz com que coloque todos os projetos de sua vida subordinados, em última instância, a este “amor rebelde” sem o qual não se pode viver, sem o qual é preferível se automutilar, sofrer, “chorar no chão da cozinha”. De que para mantê-lo a mulher deve se sujeitar a agressões, humilhações e tudo mais que seu companheiro imponha. É o apagamento completo da mulher como sujeito de sua própria vida, de submissão afetiva, psíquica e moral a seu companheiro. É isso que acontecia, inclusive com a própria Amy Winehouse, que era vítima de agressões físicas por parte do seu marido. A “rebeldia” reivindicada por Lisboa é, na verdade, puro reacionarismo.
É exatamente disto que fala Wilhelm Reich ao discutir o problema da sexualidade entre os revolucionários já nos anos trinta: “Além disso, as coisas apresentam ainda muitas dificuldades porque as moças são muito mais dependentes sexualmente dos rapazes do que eles delas, por causa da educação sexual que elas recebem, mesmo nas famílias proletárias. E uma relação amorosa significa em geral para a moça proletária muito mais do que para o rapaz, não só corporalmente, mas também psiquicamente.”8 Se Amy apenas expressava isto como sua subjetividade nas letras de suas músicas, sem no entanto reivindicar como um exemplo a ser seguido, mostra-nos apenas como esta ferida é profunda em nossa sociedade e como deve ser tarefa central dos revolucionários combatê-la a ferro e fogo. Já Lisboa, ao invés de combater este atrasadíssimo aspecto da nossa sociedade, glorifica-o, diz que “é muito rebelde”. É o grau zero da moral revolucionária!
A próxima preocupação de Lisboa será a de dar uma espécie de verniz acadêmico às abobrinhas que faz desfilar diante do leitor, e para isso invoca a identificação de Amy Winehouse com os poetas ultraromânticos do século XIX. Se é verdade que não há nada de esclarecedor nesta relação para explicar o que há de valoroso na produção musical de Amy, como parece querer crer a autora, há no entanto uma boa dose de explicação para a origem das concepções nada revolucionárias de arte e amor da própria Camila Lisboa.
O Romantismo foi um dos movimentos artísticos e culturais de maior influência na modernidade, justamente porque está intimamente relacionado ao ascenso da burguesia como classe politicamente hegemônica. É o Romantismo, de fato, que apresenta – ainda que de maneira conflituosa e contraditória – uma grande parte das concepções ideológicas da burguesia. Foi fundamental, por exemplo, para consolidar o conceito de “nacionalidade” no imaginário da classe trabalhadora, um conceito fundamental para apaziguar as contradições de classe, procurando estabelecer uma relação de identidade entre a burguesia e o proletariado que se colocasse acima dos interesses contraditórios entre trabalhadores e capital 9. No Brasil, foi uma espécie de precursor do mito da democracia racial, apresentando de forma idílica e idealizada a relação entre índíos e brancos (e em alguns casos, negros também, ainda que as classes dominantes fossem tão reacionárias que o mais comum fosse ignorar simplesmente sua existência para não “sujar” sua produção artística com este tema tão pouco “nobre”), como na reacionária obra de José de Alencar. O papel essencial que cumpriu a literatura como cimento ideológico e apaziguador das contradições sociais inerentes ao capitalismo é sintetizado por Terry Eagleton na seguinte frase: “If the masses are not thrown a few novels, they may react by throwing up a few barricades.” (Se não forem atirados às massas alguns romances, elas podem reagir erguendo algumas barricadas).
Muitos dos preconceitos ideológicos burgueses de que Lisboa se vale para reivindicar a produção de Amy Winehouse foram forjados nesta época, como o de que a “arte verdadeira” seria aquela que expressa a “subjetividade singular” do autor (definidos como a “personalidade” e o “sentimento” no início de seu texto), que é feita com “paixão” e “entrega”. Esta concepção surge justamente do papel absolutamente marginal que ocupam os artistas na sociedade burguesa, que progressivamente passa a mercantilizar todas as relações entre os seres humanos. Se antes a arte possuia seus mecenas e nobres que a patrocinavam e valorizavam, garantindo para ela um status social elevado, a partir da dominação burguesa ela passa a ser uma mera mercadoria, como qualquer outra. Aliás, pior do que outras, do ponto de vista da burguesia, porque não possui uma função pragmática. O artista passa a enfrentar a realidade de que ele é obrigado a vender sua força de trabalho como qualquer outro, ou adequar sua arte ao pragmatismo burguês para poder vendê-la (os primórdios da indústria cultural), e que nesta sociedade a arte não passa de “perfumaria”.
Para se refugiarem desta realidade e tentarem valorizar através de um escapismo idealista seu próprio papel, começa a surgir entre os artistas a concepção comumente conhecida como “arte pela arte”, que reivindica uma autonomia da arte em relação às coisas materiais e mundanas. Como se o artista fosse uma categoria especial de ser humano, um gênio que expressa sua individualidade e sua subjetividade através da sua obra, em contraposição à reificação de todas as relações. Passam a se valorizar, na arte, atributos que anteriormente não tinham a menor importância, como a originalidade e a expressão “autêntica” dos sentimentos. O amor passa a cumprir um papel destacado porque, como a própria arte, foi visto pelos românticos como um valor maior, acima das coisas materiais e da visão mundana da burguesia, algo que estaria acima da mera mercantilização, que significaria a antítese dos valores que procuravam rejeitar na na sociedade do capital.
Se é verdade que há algo de progressista no sentido de rejeição da mercantilização imposta pela burguesia a todas as relações, e até mesmo de revolucionário, no mesmo sentido em que a própria burguesia o era em contraposição ao Antigo Regime, há um conservadorismo profundo na ideia de que a resposta para a miséria “espiritual” da reificação das relações é se isolar das coisas materiais e, assim, da luta da classe trabalhadora contra o capital. Claro que dentro da imensa produção artística romântica houve aqueles que, vendo a miséria da sociedade capitalista, tomaram uma postura mais progressista e procuraram retratar os explorados. É o caso de Victor Hugo, por exemplo. No Brasil, poderíamos citar Castro Alves, que colocou sua arte a serviço da luta pela abolição. Contudo, a chamada segunda geração romântica, os adeptos do ultra-romantismo, reivindicados de maneira acrítica por Camila Lisboa, foram justamente aqueles que mais se isolaram dentro de sua subjetividade, que mais pregaram o valor da “arte pela arte”, que mais procuraram se colocar como gênios criadores distantes do mundo.
Aqui no Brasil o núcleo duro dos poetas ultra-românticos foram os filhos da classe dominante concentrados na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, tendo seu maior expoente na figura de Álvares de Azevedo. Apresentam o amor da maneira “rebelde” que reivindica Lisboa, como sofrimento, idealização. Utilizavam-no como mais um refúgio idílico de sua subjetividade e de seu gênio criador em oposição à mesquinhez do mundo real. É uma fuga das coisas “mundanas”: a escravidão, por exemplo, passou longe de suas obras. O que importava, acima de tudo, era o coito amoroso do gênio criador.10
A influência do Romantismo e sua relação umbilical com o ascenso do capitalismo são aspectos tão marcantes, que até hoje – mesmo com tantas superações e questionamentos de seus valores – a sua moral se expressa em relevantes manifestações da sociedade burguesa atual, da qual a subjetividade de Camila Lisboa é apenas mais um triste exemplo. As novelas, o ideal do “amor romântico” (seja em sua versão “felizes para sempre” ou em sua versão “humilhação e sofrimento”, duas faces da mesma moeda), a ideia de que existe uma abstração como a “arte verdadeira” ou o “amor verdadeiro” são algumas das formas de sua manifestação.
Lisboa diz em seu texto, ao finalizar a comparação da cantora com os poetas românticos, como que para colocar uma cereja no bolo da suposta genialidade artística de Amy Winehouse: “Mas Amy era de hoje.” Só podemos supor o que a autora quis dizer com isso, mas parece que em sua visão Amy seria ainda mais genial por expressar ainda hoje uma subjetividade forjada há séculos atrás. Qualquer um pode perceber o contrário, que é extremamente conservador manter hoje as concepções artísticas dos artistas do século XIX. Contudo, não coloquemos sobre Amy Winehouse o ônus das comparações esdrúxulas de Camila Lisboa, já que para além de uma subjetividade em relação ao amor bastante difundida em nossa sociedade, ela muito pouco tem de semelhante com os poetas daquela época. Para Camila Lisboa sim, poderíamos dizer: em sua época e seu contexto, da burguesia em ascensão, os poetas ultraromânticos puderam apresentar algo de progressivo ao rejeitar a mercantilização das relações afetivas e da arte. “Mas Camila é de hoje”. E hoje, na época do capitalismo em franca decadência, não há mais nada de progressivo em ter uma subjetividade assim, muito menos em reivindicá-la como algo “rebelde”.
Há muito mais o que refutar no artigo de Camila, mas não podemos aqui nos dar esta tarefa, pois parece que cada linha apresenta uma nova tarefa neste sentido. Em relação à questão das drogas, colocações como “Amy Winehouse expressava rebeldia em suas letras não porque se recusasse a ir para reabilitação” e principalmente “Não sabemos precisamente o nível de vício da cantora e acreditamos que o vício em drogas poderia, eventualmente, atrapalhar seu desenvolvimento artístico.” – que, aparte os eufemismos (“eventualmente”, “poderia”), caberia perfeitamente na boca de um âncora de jornal burguês com sua moral reacionária antidrogas, como Boris Casoy ou Datena – expressam um conservadorismo tão grande quanto em relação à questão sexual; dificilmente se poderia dizer que vieram de uma militante do mesmo partido de Henrique Carneiro, que além de ter uma vasta produção acadêmica sobre o assunto, apresenta uma posição verdadeiramente revolucionária sobre a questão, defendendo a descriminalização de todas as drogas, o monopólio estatal de sua produção, controle e distribuição, a educação a respeito do consumo de drogas, etc. Sobre esta questão, que não desenvolveremos, recomendamos o excelente artigo de Bernardo Andrade 11 para uma posição diametralmente oposta ao moralismo pequeno burguês de Camila Lisboa.
Não poderíamos concluir este texto, contudo, sem esboçar uma perspectiva que se contraponha à colcha de retalhos de preconceito e senso comum pequeno burguês que teceu Camila Lisboa. A questão de fundo – no que se refere à arte – está na maneira profundamente antimarxista como ela encara a arte, ou seja, como esta figura no texto como algo dado, imutável, a-histórico. Quando tenta explicar o que entende por arte, a coisa fica muito pior, pois expressa um amontoado de características que parecem tiradas de uma apostila de banca de jornal, e que, como demonstramos, nada mais são do que um arremedo do que a ideologia forjada pela sociedade burguesa nos brindou ao longo de séculos. Marx e Engles já apontavam, em seus esparsos escritos sobre arte e literatura, como estas são mais uma das superestruturas que representam um reflexo, em última instância, das relações de produção da sociedade. Portanto, a própria definição do que é arte é algo absolutamente histórico, determinado pelas formas de produção e sua relação dialética com a política, a cultura, etc. e que corresponde inexoravelmente aos interesses da classe dominante, pois, como já foi dito no Manifesto Comunista: “as ideias dominantes de uma época sempre foram as ideias da classe dominante”.
Assim, anteriormente convinha à classe dominante manter o conceito de “arte” restrito às produções de uma elite intelectual que pudesse consolidar um corpo ideológico que desse respaldo à sua dominação, colocando de fora do campo da arte tudo aquilo que não atendesse a este critério e mantendo uma fachada de critérios estéticos para dar um ar meritocrático a esta diferenciação – e aí entra o fundamental papel dos críticos de arte, dos próprios artistas e o papel político importante do conceito de “arte pela arte”, que procura ocultar os inevitáveis laços da arte com a política em qualquer época e contexto e desmerecer as produções artísticas que explicitem estas relações como “panfletárias”. Com a consolidação da indústria cultural, contudo, há um cenário novo, em que se cria um mercado de massas para o consumo da produção cultural, outrora reservada apenas para uma restrita elite, com uma possibilidade muito restrita de geração de lucro. Isto trás a necessidade de um novo conceito de arte para a classe dominante, e assim encontramos todo tipo de produção cultural que atende aos parâmetros desta nova indústria, padronizada para um consumo de massas, sendo definida também como arte. Chega-se ao extremo de rotular apresentadores de programas de auditório, como Hebe Camargo ou Silvio Santos, como “artistas”, nas definições da revista Caras e afins. Monta-se o espetáculo da vida alheia, em que não mais se consomem apenas os produtos da indústria, como a própria vida glamourosa e perdulária dos novos “artistas”. Se o capitalismo não pode lhe fornecer uma vida minimamente interessante, com algum significado e possibilidade de realização, então ele pode lhe fornecer uma vida fantástica e inventada, ela própria um produto da indústria cultural pronta a ser consumida.
Esta nova concepção de arte, de maneira apenas aparentemente paradoxal, convive lado a lado com a antiga, elitista, que não é de forma alguma deixada de lado, pois ainda cumpre um papel fundamental. A academia, junto a um reduto da burguesia e pequena burguesia “ilustrada”, ainda legitimam e consomem o conceito de arte mais próximo ao cunhado pelos românticos, da arte como algo muito mais “sofisticado”, que, como apresentou Camila Lisboa, apresente “personalidade”, “sentimento”. Fecham-se em uma torre de marfim e comemoram entre si sua erudição tirando sarro de grandes ícones do mercado literário, como Paulo Coelho, para esconder atrás de uma fachada de arrogância, como os românticos faziam, sua própria situação de marginalidade. A convivência dos dois critérios de arte é evidenciada no artigo da dirigente do PSTU quando ela sente a necessidade de apontar a produção de Amy Winehouse como “arte verdadeira” (ou seja, há a necessidade de diferenciação de uma “arte falsa”, que é a produção estereotipada para consumo da classe trabalhadora e das massas).
A partir da convivência destes dois critérios do que seria a arte, ambos legitimados pela burguesia a partir de diferentes instituições e para diferentes públicos, mas ambos cumprindo papéis importantes para esta classe, há muitos que consideram que a postura progressista que devemos adotar é justamente a de um conservadorismo, de nos apegarmos à definição elitista de arte e de tentar fazer girar a roda da história para trás no que concerne ao conceito de arte. Ainda que de maneira caricata, é isso o que Camila Lisboa procura fazer. Levando esta concepção às suas últimas consequências, se acreditaria que a superação da degradação do conceito de arte imposta pela própria burguesia seria a de voltarmos a fazer uma arte “sofisticada”. Esta concepção de arte visa também deslegitimar qualquer produção cultural que surja das próprias massas e dos trabalhadores, como o hip hop, o graffite, o cordel. No máximo se aceitam, numa visão populista, como “manifestações da cultura popular”, e não como “arte verdadeira”. Não pode ser este papel reacionário que cumpram os revolucionários, com um apoio envergonhado e confuso a esta retrógrada concepção de arte. Precisamos ter uma visão marxista, radical, de questionar até o fim e não nos adaptarmos ao conceito de arte que nos quer impor a burguesia, seja em sua variante “popular e de massas”, seja em sua variante “acadêmica e erudita”.
É neste ponto fundamental que avançaram teóricos marxistas que se debruçaram especificamente sobre a questão da arte – e particularmente a literatura – como Raymond Willians e Terry Eagleton. A tarefa que nos cabe hoje, no campo da arte, é primordialmente não capitular à definição burguesa de arte, o que não significa rejeitar unilateralmente toda a produção da indústria cultural, mas sim questionar o que isto quer dizer. Não é à toa que há tantas discussões acadêmicas que chegam à metafísica para procurar a definição do que é arte, dando voltas em torno de si mesma. Como disse Trotsky, em outro contexto, “para sua guerra de palavras a pequena burguesia procura a quarta dimensão”. Não podemos cair nesta armadilha.
Acima de tudo, precisamos construir um partido revolucionário que possa dar ao proletariado a direção necessária para que este tome o poder e, a partir daí, cumpra a tarefa imprescindível no campo da cultura, que é a única capaz de fazer a humanidade dar um verdadeiro salto no terreno da educação, da arte, da ciência, e que foi apontada por Trotsky e André Bretón no Manifesto por uma Arte Revolucionária Independente: “A arte verdadeira, a que não se contenta com variações sobre modelos prontos, mas se esforça por dar uma expressão às necessidades interiores do homem e da humanidade de hoje, tem que ser revolucionária, tem que aspirar a uma reconstrução completa e radical da sociedade, mesmo que fosse apenas para libertar a criação intelectual das cadeias que a bloqueiam e permitir a toda a humanidade elevar-se a alturas que só os gênios isolados atingiram no passado.”12 Ou seja, nossa tarefa essencial é lutar para que todos possam ter acesso e produzir “arte”, para que esta deixe de ser uma tarefa especial, para eleitos e privilegiados, e, enfim, se torne obsoleto o próprio conceito de arte. Se não cabe ao partido ditar regras fixas para a arte, mas sim permitir a liberdade total no terreno da criação, será tarefa primordial da ditadura do proletariado iniciar um processo de transição para que possamos colocar por terra a antiga e insuperada divisão entre o trabalho intelectual e o trabalho braçal com esta perspectiva.
1 - O processo de deriva estratégica que assolou os jovens quadros dirigentes da IV Internacional após a morte de Trotsky e também com as enormes dificuldades apresentadas pelos contraditórios resultados da II Guerra Mundial (este processo inclui Nahuel Moreno, teórico reivindicado pela LIT-QI, corrente internacional do PSTU) é explicado em maiores detalhes no artigo “En los límites de la ‘restauración burguesa’”, disponível em http://bit.ly/f62Whx e a ser publicado em português em breve na revista Estratégia Internacional Brasil 5.
2- A Folhateen é um caderno semanal do jornal Folha de S. Paulo dedicado espeficiamente ao público adolescente. É um exemplo contundente de como a burguesia procura pasteurizar a juventude e assimilar sua característica de ser frequentemente linha de frente nas mobilizações para criar uma paródia disso em mais um “grupinho identitário” a ser transformado em um nicho de mercado ou uma imagem de jovens “rebeldes” a ser reproduzida sem nenhum conteúdo político perigoso para a burguesia. Seria mera coincidência que este caderno e outro denominado Fovest (dedicado ao vestibular) já tenham colocado em suas páginas entrevistas e matérias sobre mais de um dirigente de juventude do PSTU, como Gabriel Casoni (então diretor do DCE da USP) ou Clara Saraiva? http://bit.ly/oDqYcD E por que a juventude do PSTU se presta a ser matéria prima para matérias que procuram desmoralizar o movimento estudantil, como a que diz “Líderes estudantis atrasam a formatura em nome da militância”? http://bit.ly/oepOLe Provavelmente porque consideram que assim, nas páginas da Folhateen, poderão “dialogar” melhor com a juventude.
3- Site do Movimento de Trabalhadores da Cultura: http://www.culturaja.com/
4- Exemplo marcante foi a contratação de Ferréz, um dos mais conhecidos escritores da literatura marginal, como roteirista do seriado protofascista “9mm” da Fox, propriedade do reacionário Rupert Murdoch. http://bit.ly/pOgkHR
5- “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”, disponível em http://bit.ly/mZk8Xu
6- Российское телеграфное агентство (Agência Telegráfica Russa), dirigida por poetas e artistas plásticos, de 1919 a 1921 foi responsável pelas famosas vitrines satíricas, que tinham o objetivo de fazer propaganda revolucionária e agitação contra os brancos entre as massas. Combinavam frases curtas com imagens.
7- Não por coincidência, enquanto este artigo era escrito surgiu nos noticiários mais um caso destes, uma triste rotina em nossa sociedade: http://bit.ly/npZUtw. Junto ao corpo do assassino, que se suicidou, foi encontrada uma carta ressaltando o “amor” que sentia pela vítima. Sem dúvida, era para ele um sentimento de dor e automutilação, tão grande que o levou a assassinar a ex-companheira e cometer suicídio. Será isto um ato de “rebeldia” ou mais uma expressão do profundo machismo de nossa sociedade?
8- Citado do livro organizado por Gilson Dantas com excertos de “O combate sexual da juventude”, de Wilhelm Reich. Centelha Cultura, Brasília, 2011. p. 41.
9- Para uma discussão mais profunda sobre o importante papel ideológico que a literatura cumpriu frente à decadência da religião e o ascenso da burguesia, ver “Introdução à crítica literária”, de Terry Eagleton.
10- Ainda que estes próprios poetas, em seus melhores momentos, expressassem em suas obras a situação contraditória de sua própria condição de artista. Para um exemplo disto, ver “A representação do dinheiro na ironia de Álvares de Azevedo” http://bit.ly/nEAgrD
11- “Amy Winehouse, a indústria cultural e a questão das drogas” http://bit.ly/qy1T3t
12- http://bit.ly/ngo4B1
segunda-feira, agosto 08, 2011
Assinar:
Postagens (Atom)