.jpg) |
| Companheira do call center em apoio à greve dos bancários |
São seis horas da manhã quando vou chegando ao piquete do Brás; um grande prédio no qual funciona uma agência mas cuja principal função é administrativa e de sede de um grande call center da Caixa Econômica. Já sabia que seria um piquete diferente do último que participei,
o piquete da Sete de Abril no primeiro dia de greve. Algumas mudanças importantes haviam ocorrido desde aquele dia. O piquete da Sete, modesto em suas proporções, havia aberto uma via há muito fechada nas greves dos bancários de São Paulo: a da ação independente e auto-organizada dos trabalhadores a partir das bases. O significado simbólico disto e, principalmente, o potencial latente na hipótese de que este pequeno exemplo se generalize e se torne uma ação comum em toda a categoria ou em parte significativa dela foi algo que caiu como uma bomba no água parada da passividade construída cuidadosamente por décadas da burocracia da CUT. A pequena pedra atingiu esta água e formou ondulações que foram se espalhando por toda a categoria, agitando estas águas calmas. Agora, estas ondinhas chegavam no Brás, já maiores do que no lugar onde a pedra atingiu a superfície da água.
No segundo dia da greve, quando o piquete do Avante Bancários fechou o prédio da Sé, os resultados das perturbações na água parada da burocracia cutista já se notavam. Uma gerente disse: "fiquei sabendo do que vocês fizeram ontem na Sete e não acreditei que era verdade. Agora estou vendo que é." Sim, é verdade. É uma oposição pequena, minúscula. A direção majoritária do PT adora "se gabar" deste fato; nisto, não estão sozinhos: a "oposição majoritária" do Movimento Nacional de Oposição Bancária (MNOB), dirigida pelo PSTU, também se arroga o direito de desprezar aquilo que costumam qualificar como "seita": as agrupações menores de oposição, em sua visão sempre ultra-esquerdistas (ainda que raramente se dediquem a decifrar o conteúdo desta sua crítica). Esta oposição era a pedrinha caindo na água. As pequenas expressões da passividade já mostravam a novidade de tudo aquilo: enquanto estávamos no piquete da Sete no primeiro dia, o camarada Edu ligou pro seu sindicato pedindo um advogado para nos ajudar com a polícia. A secretaria do sindicato tenta entender o que está acontecendo: "Vocês estão no piquete?", pergunta. "Isso", responde Edu. "Mas você trabalha na Caixa?", supreende-se a secretária pela primeira vez, já que os piquetes dos bancários são há décadas feito pelos "terceirizados", gente contratada pelo sindicato para "fazer um bico" piquetando as agências enquanto os bancários vão pras colônias de férias com desconto da APCEF. Edu confirma: ele trabalha na Caixa. "Mas você trabalha nesta agência mesmo?", pergunta a inconformada secretária. Onde já se viu isto? Um bancário fazer um piquete em seu local de trabalho? Ora, mas isto sem dúvida não era coisa do sindicato... é, não era mesmo. Ainda assim, a desconfiada secretária mandou um advogado para averiguar aquela estranha situação de trabalhadores protagonizando a sua própria greve.
Pasmem, ó "históricos" dirigentes do movimento de bancários! Pasme, ó "histórica" oposição bancária: estas pequenas "seitas ultra-esquerdistas", reunidas no Avante Bancários, mudaram alguma coisa na "greve de calendário", com direito a promoção na colônia de férias, piqueteiros "terceirizados", censura a falas na assembleia e o todo o tipo de burocrateadas bárbaras que se possa imaginar na rotina de um punhado de ratos velhos que mama nas tetas do imposto sindical, deitados em berço esplêndido. O piquete da Sé, logo após o da Sete de Abril, mostrou que não se tratava de um importuno episódio: a oposição pela base estava nascendo pra valer. Era necessário mexer o traseiro acomodado da cadeira de burocrata para conter esta semente da discórdia, pronta a brotar no seio do movimento operário e sindical dos bancários. Dito e feito, porque macaco velho da burocracia não vai abandonar "a luta" (leia-se, seus cargos bem remunerados do sindicato) pra um punhado de moleques aparecerem como um setor combativo na "sua" greve: no piquete da Avenida Paulista, o terceiro da greve, lá estava o sindicato e, seguindo-o como "uma sombra à esquerda", o MNOB. Sobre este piquete, não posso dizer muito além disso, porque não estava lá.
Mas era este o cenário político da greve quando me dirigi, na manhã de ontem, para o prédio do Brás. No metrô, já vi algo que podia indicar uma mudança: um militante do PSTU, estudante da USP, sentado no mesmo vagão que eu. "Vai pro piquete, o PSTU está colocando seus estudantes para apoiar", pensei, entusiasmado, sentindo a mudança no ar. Mas quando o trem passou pela Sé, meu engano se desfez quando ele desceu; devia estar indo pro trabalho. Por isto, não pensei que seria nada diferente quando desci no Brás e avistei, do outro lado da rua, Altino, presidente do Sindicato dos Metroviários e militante do PSTU. "Deve estar indo pra outro lugar...". Desta vez, subestimei-os: Altino estava indo para o piquete. E quando cheguei lá, muitos rostos desconhecidos estavam já em frente aos quatro acessos ao prédio.
 |
| Altino, presidente do Sindicato dos Metroviários, no piquete do Brás |
|
Aos poucos, com a ajuda de meus camaradas, fui conhecendo suas filiações partidárias, sindicais, ideológicas: diretores do sindicato do PT e da CUT, oposicionistas do PSTU, militantes da ASS, MR e outras agrupações que compõem conosco o Avante Bancários. No total, mesmo com esta "disposição para a luta" demonstrada pela direção e oposição, nossa "pequena seita ultra-esquerdista" ainda era maioria no piquete, e a única organização que havia mobilizado a juventude e os estudantes para apoiar ativamente a luta. Segundo me informaram, poucos efetivos trabalhavam no prédio; mas cerca de mil terceirizados do Call Center se dividiam pelos turnos. E logo começaram a chegar. A imensa maioria eram mulheres, jovens e negras: os rostos de sempre quando falamos dos trabalhos mais precarizados. E é disto que se trata no call center de um banco: setecentos e poucos reais por mês, cinco e cinquenta de vale alimentação, sem direito a faltas, sem direito a pausas para ir no banheiro, tempo contado em vinte minutos para o almoço (com 500 funcionários e 3 microondas para esquentar a comida!), assédio moral generalizado, metas de vendas sem comissão (mas com "brindes", como ingressos pro cinemark!), vale creche de 130 reais (que era necessário comprovar a necessidade todo mês com firma reconhecida em cartório!)... enfim, mesmo a lista apenas das coisas que ouvi hoje já é grande demais para colocar aqui, mas acho que deu pra entender o espírito da coisa. Tudo isto para vender a pessoas coisas que elas não querem e não precisam, tentando bater mil metas que não interessam a nenhum ser humano exceto os banqueiros e seus comparsas.
As primeiras trabalhadoras se surpreenderam pelo fato de que não as deixaríamos entrar: afinal, a greve era dos bancários, e elas eram do call center. Enquanto conversávamos tranquilamente com elas, tentando dizer porque deveria ser uma luta de todos e a necessidade de unificação, os burocratas do sindicato chegaram junto querendo "mostrar serviço" no piquete, tratando-as da mesma forma que tratariam um efetivo fura-greve, sem agressões mas de forma impositiva, simplesmente informando que não iriam entrar... Contudo, bem distinto foi a postura que vi estes senhores terem alguns minutos depois, quando apareceu o gerente geral do prédio, ou ainda com o gerente de pessoal que já estava dentro do prédio antes das quinze pras seis, quando o piquete começou: muitas piadinhas amigáveis, risadas, uma relação curiosamente fraternal para quem está do outro lado da greve. E era assim: os militantes do MNOB extremamente cordiais com aqueles mesmos burocratas que vetam a palavra aos bancários nas assembleias utilizando bate-paus contratados do sindicato; os diretores do sindicato, por sua vez, extremamente amáveis com a chefia que impõe metas, assédio moral, super-exploração sobre os funcionários. Vendo aquilo, parecia até que a greve e o piquete eram uma encenação para eles, uma obrigação a cumprir no dia, depois da qual todos poderiam perfeitamente se sentar numa mesma mesa de bar para uma boa conversa. Se é isto que é luta de classes, eu acho que toda minha "inexperiência" me ensinou coisas bem malucas e esquisitas nas greves da USP ou nas leituras da história do movimento revolucionário que talvez tenham que ser rebatizadas com algum outro nome!
.jpg) |
| Terceirizadas do call center do turno da manhã começam a se juntar na praça em frente ao prédio |
As trabalhadoras terceirizadas foram para o outro lado da rua e começaram a se juntar por lá, primeiro cinco, depois quinze...logo eram centenas. São umas sete da manhã quando a burocracia liga o "seu" som. Se no primeiro dia de greve tivemos que recorrer ao Centro Acadêmico de Letras da USP para poder ter uma mera caixa de som no piquete da Sete, ontem o cenário era um bocado diferente. Uma tenda montada em frente ao prédio com duas belas caixas de som apoiadas em pedestais; microfone, mesa de som, um operador para o equipamento; além disso, ganhamos lanchinhos (suquinho de caixinha, sanduíche de peito de peru com queijo e maçã, tudo embaladinho num saquinho), café e água à vontade.
 |
| Lanchinho também "terceirizado" do sindicato para o piquete |
É triste como todo o aparato do sindicato é na realidade de seus diretores (leia-se burocratas), estando à disposição quando eles querem. Comendo aquele lanchinho me lembrei do simples "x-greve" do sintusp: um pão com manteiga, ou mortadela, ou queijo ou um patê. Nos dias "de luxo", era com salsicha. Comíamos todos juntos, trabalhadores e estudantes, terceirizados e efetivos, e até mesmo os poucos professores que apareciam por lá. Na greve dos bancários, contudo, os terceirizados do outro lado da rua não receberam uma sacolinha com lanchinho... até nas pequenas coisas o sindicato naturaliza a divisão da classe.
Abre-se o microfone e o primeiro a falar é um burocrata jovem, em formação ainda. Sua fala, bastante ruim em geral, me chamou a atenção pelo conteúdo de sua denúncia à terceirização: centrava-se no questionamento à Lei Mabel (PL 4330), cujo objetivo é o de ampliar a terceirização para as chamadas "atividades fim", ou seja, tirá-la do âmbito das funções que a justiça burguesa resolveu classificar como "menos importantes", como a limpeza, segurança, call center e passar para bancários diretamente, no caso desta categoria, impondo uma nova divisão que passa da já aplicada hoje no seio da categoria para uma nova que divide até mesmo os que dentro de uma categoria exercem uma mesma função. É evidente que o combate à Lei Mabel é uma tarefa fundamental de qualquer trabalhador, mas o relevante neste caso é o corporativismo do burocrata da CUT, que pensa apenas na sua "base eleitoral" que pode perder o emprego por causa da nova lei. E as centenas ali do outro lado da rua, para quem a Lei Mabel não muda nada e que hoje já sofrem os efeitos da terceirização? Para eles algumas palavras ao vento sobre como é duro seu trabalho...
Edison, delegado sindical da Caixa e militante da LER-QI e da agrupação Uma Classe, pega o microfone em seguida para se dirigir justamente às terceirizadas, falando da necessidade de unificar a luta e que o sindicato passe a lutar pela efetivação sem concurso público, garantindo os mesmos direitos e salários para as trabalhadoras do call center. A fala é aplaudida por elas, mas moderadamente. Acho que pensaram que se tratava de mais um demagogo sindical ou algo assim. Contudo, depois que passamos conversando pessoalmente com elas nos pequenos grupos, alguma coisa parece mudar.
.jpg) |
| Taís, delegada sindical da Sé e militante do Uma Classe, conversa com as terceirizadas |
A próxima fala é bastante aplaudida quando se refere às condições de trabalho dos terceirizados. As trabalhadoras do outro lado da rua começam a ver que aquele evento pode não se tratar apenas de uma paralisação dos bancários que as deixe do lado de fora, mas pode ser uma oportunidade para que, sob a cobertura democrática da greve de uma categoria mais forte e estável, elas possam começar a colocar suas demandas e construir uma unidade. Mas não é apenas nelas que se opera uma mudança: mais uma vez os macacos velhos da burocracia veem que é o momento de relocalizar seu discurso velho e gasto. Como uma ameba fagocitando ao seu redor, os burocratas sentem a ameaça de centenas de trabalhadoras simpatizando com a "seita ultra-esquerdista" e o perigoso potencial desta união, e começam a incorporar no seu discurso a luta pelos direitos dos terceirizados.
O piquete vai se mostrando como uma frente-única com um delicado balanço de forças, na qual existe um constante tensionamento entre as forças políticas que a compõem para disputar seus rumos; nós conseguimos ir empurrando o sindicato à esquerda em seu discurso, mas sem esquecer em nenhum momento que se tratam de agentes da burguesia no movimento operário; nos aproveitamos das brechas: nossa camarada Virgínia é vetada de fazer uma fala pelo Pão e Rosas; Edison pega o microfone para falar e passa para nossa camarada. O burocrata não pode - pelo menos naquele espaço - arrancar o microfone à força de sua mão. Um sorrisinho irônico e um tapinha nas costas de Edison são a sua resposta, como quem diz: "aproveita aqui que você pode fazer isto, e espera até a assembleia pra ver quem que manda". Meu camarada permanece impassível, sem responder nada à provocação. São sutilezas que denotam um abismo entre as concepções de nossa organização e a de outras; a convivência pacífica do PSTU com a burocracia sindical denota isto: tapinhas nas costas de um lado a outro, acordos feitos por cima. Edison se aproveita da correlação de forças favorável que é garantida não por nossa pequena corrente, mas pelas centenas de trabalhadoras do outro lado da rua. É assim que os revolucionários "negociam": apoiando-se na força que os próprios trabalhadores tem para garantir espaços em que se manifestem suas demandas; o PSTU, pelo contrário, conta com a força dos aparatos e negocia o que estes lhe permitem. Por isto é capaz de dirigir oposições tão imensas quanto inofensivas, não só em bancários mas em outras categorias fundamentais como a de professores. Por isto sobem em palanques e carros de som abraçando nossos inimigos de classe, como o Paulinho da Força. Não compreendem que temos, sim, que fazer frentes-únicas com estes burocratas, mas que seu principal objetivo é desmascará-los, e que justamente por isto estas frentes-únicas não podem se formar a partir de acordos "por cima", baseados em quem tem mais ou menos aparatos sindicais, mas devem ser formadas a partir das bases, a partir da força que tem os trabalhadores para impor que os burocratas tenham que "fazer uma pose" mais de esquerda em nome de manter seus cargos.
Era exatamente isto o que acontecia no piquete do Brás: uma correlação de forças inusitada era garantida para nossa pequena agrupação na frente-única graças às centenas de terceirizadas que se aglomeravam na praça; elas garantiam que pudéssemos falar e o que podíamos falar. Edison, por exemplo, não chega em sua fala a expor os podres da burocracia sindical abertamente, mas na verdade o faz em forma de exigência: "Trabalhou em banco, bancário é, diz o lema", ele se apóia aqui nas palavras ao vento do próprio sindicato, "é preciso colocar em prática, e para isto temos que lutar pela efetivação dos terceirizados sem concurso público". Ele não deixa de falar que o sindicato é formado por burocratas parasitas porque está capitulando, mas porque a correlação de forças não permite que o faça, e isto porque as trabalhadoras do outro lado da rua - ao menos em sua maioria - não sabem ainda que o sindicato dos bancários é formado por parasitas; falta-lhes a experiência para que saibam disto. Neste caso, a atuação de um revolucionário é para acelerar esta experiência, mostrando nos fatos que a burocracia não quer efetivamente defender os terceirizados. Dissesse o Edison: "Este sindicato dos bancários é composto por uma burocracia governista e pelega, que não move uma palha sequer para defender efetivamente os interesses dos terceirizados!", esta fala jogaria em favor dos burocratas e serviria para não mais do que o consumo próprio da consciência de seu falante, que poderia se consolar dizendo "puxa, como sou de esquerda!". As trabalhadoras não iriam achar o sindicato mais pelego por causa disso, mesmo porque em seguida os burocratas fariam falas inflamadas em defesa de seus direitos (como de fato o fizeram) e a maioria das trabalhadoras pensaria: "nossa, aquele cara que falou antes era meio louco, né?" E seria muito mais fácil para o sindicato simplesmente não dar mais o microfone para o Edison, porque as trabalhadoras se sentiriam bem pouco propensas a defender seu direito de falar.
Quando Edison se apóia no lema do próprio sindicato e, se possível, nas palavras dos próprios burocratas, e aponta que para ser consequente com isto o sindicato deve defender a efetivação, então ele coloca os burocratas contra a parede: eles podem defender a efetivação no microfone, e isto é uma nova arma para exigir deles a prática e denunciá-la se não for feita; ou eles podem manter suas palavras ao vento sem a efetivação, e aí torna-se mais fácil mostrar para os trabalhadores que são palavras ao vento. E quem disciplina o sindicato é a unidade entre as trabalhadoras terceirizadas do outro lado da rua, e a expressão consciente de suas demandas através de um programa, feita nas falas de Edison, Taís, Virgínia e outros camaradas que, neste caso, estão em uma situação em que o sindicato dificilmente poderá chamá-los de "seita ultra-esquerdista", mas, pelo contrário, tem é que assimilar muito de seu discurso para ficar "bem na fita" com as centenas de trabalhadoras do outro lado da rua.
E é por isto mesmo que chegam ao ponto, em outra circunstância impensável, de abrir o microfone para que uma das próprias trabalhadoras se manifeste. E que manifestação! Quando a trabalhadora toma o microfone em suas mãos, palavras há muito guardadas para serem ditas aos quatro ventos saem com uma fluência extraordinária. As condições de trabalho absurdas a que são submetidas estas mulheres subitamente se espalham pelos quatro cantos da praça através da caixa de som do sindicato. As mulheres do call center, acostumadas a terem sua voz calada e seus direitos esmagados sob o peso da patronal, vibravam ao ouvir seu suplício diário ecoar na voz da sua companheira. Os burocratas do sindicato, calados, acompanhavam as trabalhadoras para não serem atropelados por elas...
Depois, o gerente do call center aparece na porta de entrada das trabalhadoras (sim, até uma porta diferente de entrada elas têm!) e tenta avaliar a "razoabilidade" dos grevistas: "Olha, eu tenho uma empresa que presta serviço aí e as trabalhadoras precisam entrar". "Então, não vai dar, estamos em greve." respondemos tranquilamente. "Sim, mas a greve é dos bancários, elas são de outra empresa." Edison dá uma de "joão-sem-braço" e explica ao senhor gerente o be-á-bá do seu trabalho de explorador, deixando didaticamente claro que se o fulano ajoelhasse e implorasse não faria a menor diferença: "Só que esta coisa de ter outra empresa é o que o banco faz pra dividir e enfraquecer a nossa luta, então não vai poder entrar." O gerente entendeu o recado, e sem nenhuma sombra de diplomacia dá às costas aos seus inimigos e vai procurar outros meios de resolver os problemas. Afinal, ele não se tornou gerente por insistir em métodos ineficazes de resolução dos problemas.
.jpg) |
| Gerente do call center tenta usar seu telefone para fazer um milagre e explorar as trabalhadoras mesmo com o prédio fechado...ele não conseguiu, tadinho, e teve que dispensar elas. |
Assim, o dia transcorre, e os burocratas do sindicato, tomado de uma incrível consciência de classe, cercam as terceirizadas de solidariedade, de atenção, como se desde sempre tivessem se importado com seus problemas. Vejo-os anotando seus problemas, garantindo assistência... sinto-me na necessidade de alertá-las sobre o que há de fundo em "tanta amizade". Contudo, a conversa que tenho com as que conheci mostra que elas já estão é bem calejadas com a burocracia. Falam de experiências com seu próprio sindicato e quando explico porque está tendo piquete ali, por causa da pressão do Avante Bancários, ela dizem: "É, dá pra ver mesmo porque nenhum outro dia de greve teve piquete aqui." Me perguntam se no dia seguinte o piquete vai continuar e, por mais que eu queira dizer que sim, nossas forças ainda não podem garantir isto. Continuaremos no piquete rotativo, pelo menos por enquanto...
.jpg) |
| Sindicato dá lanche para as trabalhadoras terceirizadas que ficaram por ali, como parte da "súbita consciência de classe" dos burocratas da CUT. |
Quando estamos ali em frente ao prédio, de repente recebemos um bilhete jogado pela janela: é um pedido de socorro. Em algum momento que não se sabe onde, e por alguma porta que não se sabe qual, os patrões conseguiram colocar as trabalhadoras terceirizadas da Brasanitas, empresa de limpeza e manutenção que atua no prédio, para dentro. E, claro, exercendo seu direito de patrão não iriam deixá-las ir embora pelo mero fato que que
todo o prédio estava fechado e não havia
mais ninguém lá dentro, tornando o trabalho delas absolutamente dispensável. Ora, se o patrão pagou, ele quer o trabalho feito, mesmo que não haja trabalho para fazer! Infelizmente, não tínhamos como resgatar os poucos trabalhadores que lá dentro eram obrigados a cumprir seu turno... eles saíram apenas algumas horas depois.
.jpg) |
| Bilhete dos trabalhadores da Brasanitas que foram forçados a permanecer dentro do prédio pela patronal |
No turno da tarde, o mesmo se repete. Centenas de trabalhadoras se juntam, a gerente se descabela tentando fazer todo mundo entrar, e no fim são todas dispensadas. Eu, neste momento, acompanho tudo por informes, porque estou na entrada lateral, onde não acontece muita coisa fora uma ou outra pessoa que tenta entrar de carro e é dispensada por nós. Converso com companheiros sobre a greve, sobre a revolução russa, sobre o movimento estudantil e vejo o dia passar no nosso posto de guarda.
.jpg) |
| Turno da tarde do call center se junta em frente ao prédio. |
No fim da tarde vamos embora. Como no piquete da Sete, este não foi mais um mero dia de paralisação de um prédio. Para além dos milhões em prejuízo que demos ao banco, algo mais importante aconteceu ali: uma aliança pequena, pontual, entre estudantes, trabalhadores efetivos e terceirizados; uma aliança entre revolucionários e trabalhadores precarizados; uma aliança que, em seu pequeno momento, disciplinou uma poderosa burocracia no controle de um imenso aparato, a defender os interesses dos terceirizados para não perder o bonde. É pequena, mas é um exemplo. Um exemplo de que quando colocamos o marxismo em prática, na luta de classes, com uma atuação e uma estratégia para vencer, mesmo um grupo tão pequeno que é abertamente chamado de "seita ultra-esquerdista" pode fazer a diferença. E, sem dúvida, esta pequena diferença foi só o começo. E uma boa parte das trabalhadoras que ali estiveram mudaram sua cabeça e irão por mais. Nós estaremos ao seu lado, ombro a ombro, em cada pequeno combate, construindo a ferramenta que vai poder levar esta luta à vitória: o partido revolucionário.
.jpg) |
Juventude às Ruas guardando a porta lateral do prédio da Caixa.
|
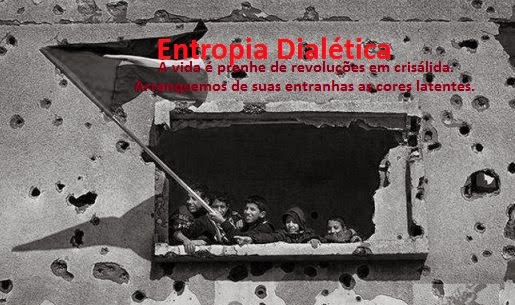







.jpg)
+Dia+D!.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


